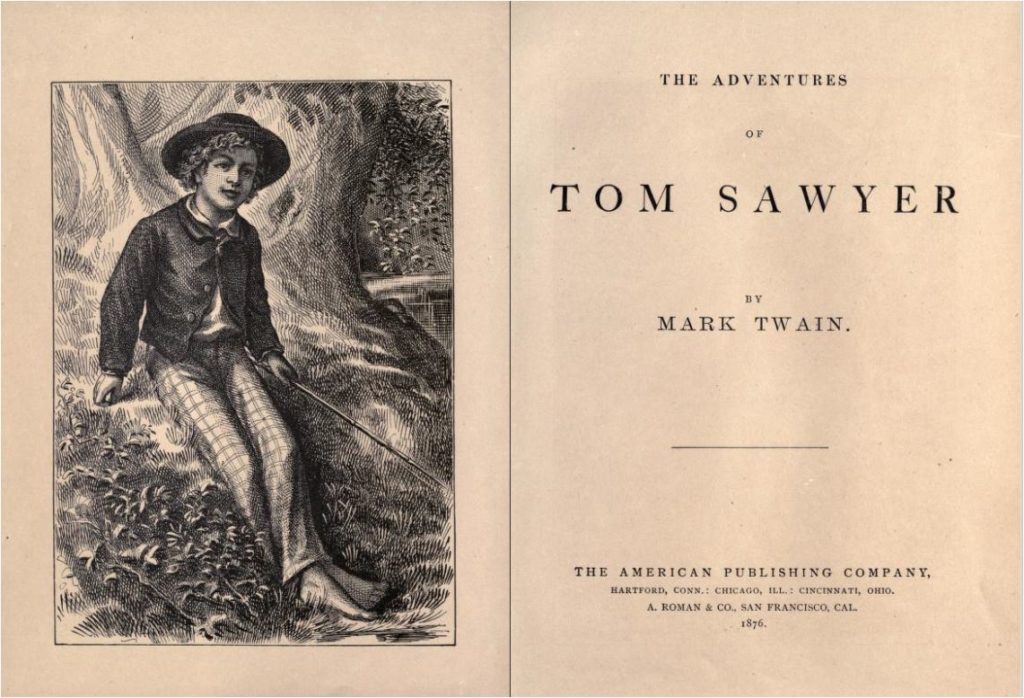
Tarde fria do mês de julho, com um céu azul e sem nuvens. Vejo três crianças brancas, descendo a rua de um bairro zona sul, acompanhadas de uma senhora. As idades variam entre os 07 e os 10 anos mais ou menos. Estamos no período de recesso escolar – antigamente chamado de férias porque era o mês inteiro e não somente esses quinze dias encolhidos. O que eu constato? Muito provavelmente, esse grupo humano seguirá para algum algum shopping center. Ou, no melhor das hipóteses, para alguma pracinha cujos espaços voltados ao brincar já são tão delineados – pouca margem para a indeterminação. Talvez uma casa onde tenha quintal? Difícil isso acontecer hoje em dia.
Essas crianças não se deparam mais com o que chamamos de mundo de cultura da rua, que já foi o mundo de cultura da infância – que proliferava até final dos anos de 1960 e de modo mais rarefeito no início dos anos de 1970. Sim, um mundo das ruas, dos terrenos baldios, dos espaços ainda não totalmente determinados pelo uso planificado. Não existem mais terrenos baldios, e os que ainda resistem são cada vez mais raros e dispostos mais para as populações periféricas. Ali se instalavam os circos, surgiam os campos de futebol, se reuniam os meninos e as meninas para viver suas narrativas de corpo, ficção e jogos. Nas fases e faixas de transição, quando se instalavam as construções, os dutos e pavimentações, ainda assim esse era um mundo a ser habitado pelo brincar – até que logo se definia um uso que não cabia mais a infância e sua cultura lúdica.
Fui um garoto selvagem, se comparado àqueles meninos. Transitava entre os mundos de dentro – de casa – e o mundo de fora – as ruas e os terrenos baldios, além daqueles lugares em que a natureza crescia um pouco ainda indomável. Vivíamos mais no mundo extra-muros do que no interior dos espaços fechados. Quando chovia, era uma tristeza sem fim e ao menor estio, já estávamos nas ruas e nos espaços. Até o final dos anos de 1960, o meio natural e o meio habitado eram mais contíguos e a realidade das ruas era um convite irrecusável.
Cresci em meio à cultura do mundo das ruas, em meio à situações difíceis, por onde inventava com meus amigos os meus próprios brinquedos e brincadeiras. E por onde aprendia também a negociar para sobreviver – e como o gato, passar ileso do muro ao chão e do chão ao muro, para lembrar a poesia musicada de Vinícius de Moraes. Nem sempre conseguia, pois machucar no mundo e ser nele machucado por alguém era parte do roteiro cotidiano que se escrevia no inesperado de sempre.
Tom Sawyer, o personagem de Mark Twain, foi o alter ego da minha infância. Curioso que ao longo de tantos anos, com tantas mudanças, com tantas coisas perdidas, esse livro nunca me deixou. Presente de minha mãe, que me dava livros, preocupada com minha dificuldade em processar o mundo da escola – menino selvagem vindo do nordeste mineiro, acostumado às fugas. O livro foi o número 7 de minha primeira biblioteca. Sim, eu podia transitar entre aventuras de personagens e aventuras nos espaços indeterminados.

Tom Sawyer é um menino por volta dos seus 10 anos, pobre, órfão de pai e mãe que mora com uma tia e um primo por demais ciumento. Suas andanças atravessam mundos diferentes e que se excluem mutuamente: de um lado os mundos da casa, da escola com sua rigidez e a missa dominical e do outro lado o mundo dos seus colegas de rua e de escola, os negros e principalmente o menino Huckleberry Finn (que deu nome a um livro posterior), que mora nas ruas e, completamente marginal, é filho de um homem bêbado que sempre o castiga.
A história de Tom Sawyer é a de um mundo onde os meninos é que se podem dar às aventuras mais arriscadas. Fica claro que as meninas eram mais controladas. Mesmo assim, o autor nos mostra que, apesar desse controle, posso inferir, havia contatos mais ou menos marginais. Um pequeno trecho de um diálogo entre Tom e Becky, a menina por quem é apaixonado:
– Gosta de ratos, Beck?
– Detesto ratos!
– Também eu – vivos! Falo de ratos mortos, para os fazer regirar atados a um barbante.
– Não, nem assim! Não gosto de ratos de jeito nenhum. Do que eu gosto é de chiclete.
– Eu também. Quem me dera ter um agora!
– Pois eu tenho. Quer mascar um bocadinho? Ms tem de devolver logo – e puseram-se a mascar a mesma goma, ora um, ora outro, sentadinhos no banco, a balançarem as pernas.
– Já esteve no circo? – perguntou Tom. (…)
Volto-me para os meninos que descem a rua com a senhora, vivendo numa classe social e em ambientes protegidos, apartados da realidade social do país, sem convívio com meninos e meninas negras. Ou seja, em ambientes racialmente segregados, quando os negros constituem a média de 60 % da população brasileira.
Que fabulações, aventuras e narrativas essas crinças, habitantes dos condomínios fechados e dos shopping centers podem produzir? Que brinquedos e brincadeiras elas podem viver quando respiram somente espaços confinados? Pois que falta alguma coisa: a experiência do que é estranho aos espaços controlados da família, da escola e das diversões segregadas e confinadas. Espaços sem equipamentos que dirigem e condicionam a experiência.
Então, eu me pergunto: será que a cultura lúdica da infância morreu? Pois, com exceção das regiões periféricas da cidade, não existem mais vazios e terrenos baldios e campos de indeterminação e transição a serem habitados por crianças, longe dos olhares vigilantes dos adultos e fora dos usos que somente visam os fins. Pois, para lembrar o escritor Bartolomeu Campos Queirós (1944-2012), há uma diferença entre a criança que vive o mundo como consumidora de cultura e aquela que se pauta por ser produtora de cultura. Diria, o brincar como poiesis – produção de mundos. Uma cultura lúdica, dada aos atravessamentos, às transições, ao continuum entre espaços heterogêneos, às misturas e ao convívio indeterminado e aberto.
Num mundo de cercas e muros que se erguem, será que essa cultura acabou? Não serão esses, que descem a rua, sem sujar as mãos e se misturar com outros corpos, que estarão erguendo no futuro tantas outras barreiras?
Como se pode crescer e se formar num mundo onde a diferença não prolifera e não reivindica um status de igualdade? A conversa é infinita… Continua.